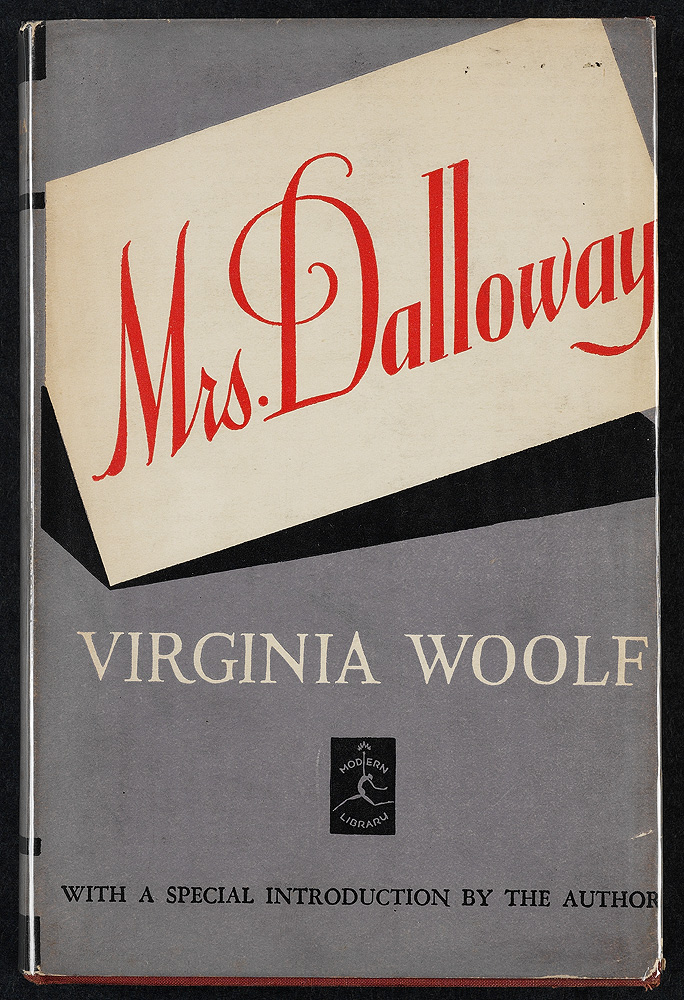 A mulher, como garante Simone de Beauvoir¹, foi historicamente rechaçada de diversos campos do saber. Sua presença como autora, sabemos, ocorreu praticamente nos últimos três séculos e foi inicialmente camuflada pelo uso de pseudônimos masculinos - na literatura inglesa, por exemplo, no século XIX, com exceção de Jane Austen (Orgulho e preconceito), que assinava o próprio nome. Mary Anne Evan, para citar uma delas, passou à História como George Eliot (tradutora de Vida de Jesus de David Strauss) – curiosamente, foi descoberta por Dickens na leitura de uma de suas obras.
A mulher, como garante Simone de Beauvoir¹, foi historicamente rechaçada de diversos campos do saber. Sua presença como autora, sabemos, ocorreu praticamente nos últimos três séculos e foi inicialmente camuflada pelo uso de pseudônimos masculinos - na literatura inglesa, por exemplo, no século XIX, com exceção de Jane Austen (Orgulho e preconceito), que assinava o próprio nome. Mary Anne Evan, para citar uma delas, passou à História como George Eliot (tradutora de Vida de Jesus de David Strauss) – curiosamente, foi descoberta por Dickens na leitura de uma de suas obras.No século XX, entretanto, conhecemos autoras inglesas que não escamotearam o sexo. É o caso de Virgínia Woolf, que não só assumiu sua identidade enquanto mulher, como escreveu textos hegemonicamente sobre a condição feminina. Além disso, sabe-se que Woolf pronunciou conferências e palestras para operárias, quando, certamente, sua preocupação era o lugar da mulher no plano cultural e na própria sociedade. A obra de Woolf, no entanto, não nutri a estridência feminista da segunda metade do século XX, mas, certamente, tem clara noção dos entraves que perturbam a escrita da mulher. O texto já é, portanto, uma colocação da existência de uma tradição da escrita feminina.
É evidente que a obra de Virginia Woolf não trata de uma questão de gênero, este é considerado inclusive pela própria autora inglesa um constructo social que pode ser superado. Não podemos afirmar que Woolf foi a primeira escritora inglesa, mas certamente é nela que se pode sentir mais claramente a consciência da condição feminina na criação literária. Um dos pontos fundamentais e que antecedem importantes aspectos do famoso ensaio feminista de Simone de Beauvoir, está no reconhecimento de que a mulher é aprisionada por uma série de desvantagens. Além de viver num mundo definido em termos masculinos, ela não tem liberdade de exprimir qualquer coisa da experiência humana que acentue a natureza feminina, principalmente as experiência físicas. A autora inglesa nunca abandonou a idéia de que a escrita feminina é diferente por questões sociais e não psicológica.
Posteriormente, em 1949, com a publicação do Segundo Sexo, Simone de Beauvoir enfatizara que apesar do homem e da mulher nascerem em condições semelhantes e, naturalmente, com possibilidades subjetivas semelhantes, existe uma construção social do gênero mulher que implicará em condições de vida diversas - não só devido a um constructo social, mas também psicológico. Simone de Beauvoir representa a passagem de um primeiro movimento de questionamento da condição feminina, ainda em fase inicial, para uma segunda fase, que se volta para as diferenças sexuais e as discriminações sofridas pela mulher, agora, de caráter mais efetivamente político - que desaguaram em um movimento feminista.
A década de 60 representou o ponto alto no movimento de libertação feminina, com Betty Friedan, por exemplo. O movimento feminista, particularmente, teve que lutar contra uma série de crenças que, embora partindo de questões reais, desviam-se no sentido de ratificar a inferioridade da mulher. Mais do que uma cultura feminina, coloca-se a questão da escrita feminina. Seria ela específica ou a especificidade estaria apenas na preferência por determinados temas? Esta é uma questão que permanece nublada. É, no entanto, evidente que algumas características podem ser visualizadas como definidoras da escrita feminina. Isto ocorre no plano estrutural, como também na freqüência de determinados temas. O feminismo se coordenou posteriormente com outras tendências, inclusive com o Marxismo, e foi adquirindo, ao longo do tempo, uma base teórica em relação às afirmações iniciais - de caráter mais emocionais.
 Tanto como uma crítica teórica quanto como movimento social, a questão feminina, representante de outras tendências que foram incorporadas ao discurso marxista (revoltas estudantis, movimentos juvenis contraculturais e antibelicistas, lutas pelos direitos civis, movimentos revolucionários e tudo aquilo que está associado com “1968”), segundo o teórico cultural Stuart Hall, em seu livro Identidade cultural na pós-modernidade², corrobora a fragmentação do sujeito moderno. Hall inclui o feminismo – ou simplesmente a questão do feminino - entre os cinco acontecimentos que corroboraram a fluidificação do sujeito cartesiano - os outros quatro são a teoria econômica e filosófica de Marx, a psicanálise de Freud, a lingüística de Saussure e o pensamento de Foucault. Hall sublinha que o feminismo “questinou a clássica distinção entre o “dentro” e o “fora”, o “privado” e “público”. O slogan do feminismo era: o pessoal é político.” Ele abriu, portanto, para a contestação política, arenas inteiramente novas de vida social: a família, a sexualidade, o trabalho doméstico, a divisão doméstica do trabalho, o cuidado com as crianças, etc. O feminismo, além disso, enfatizou como uma questão política e social o tema da forma como somos formados e produzidos como sujeitos generificados. Isto é, ele politizou a subjetividade, a identidade e o processo de identificação (como homens/mulheres, mães/pais, filhos/filhas). Aquilo que começou como um movimento dirigido à contestação da posição social das mulheres expandiu-se para incluir a formação das identidades sexuais e de gênero. Em outras palavras, o feminismo questionou a noção de que os homens e as mulheres eram parte da mesma identidade, a “Humanidade”, substituindo-a pela questão da diferença sexual.
Tanto como uma crítica teórica quanto como movimento social, a questão feminina, representante de outras tendências que foram incorporadas ao discurso marxista (revoltas estudantis, movimentos juvenis contraculturais e antibelicistas, lutas pelos direitos civis, movimentos revolucionários e tudo aquilo que está associado com “1968”), segundo o teórico cultural Stuart Hall, em seu livro Identidade cultural na pós-modernidade², corrobora a fragmentação do sujeito moderno. Hall inclui o feminismo – ou simplesmente a questão do feminino - entre os cinco acontecimentos que corroboraram a fluidificação do sujeito cartesiano - os outros quatro são a teoria econômica e filosófica de Marx, a psicanálise de Freud, a lingüística de Saussure e o pensamento de Foucault. Hall sublinha que o feminismo “questinou a clássica distinção entre o “dentro” e o “fora”, o “privado” e “público”. O slogan do feminismo era: o pessoal é político.” Ele abriu, portanto, para a contestação política, arenas inteiramente novas de vida social: a família, a sexualidade, o trabalho doméstico, a divisão doméstica do trabalho, o cuidado com as crianças, etc. O feminismo, além disso, enfatizou como uma questão política e social o tema da forma como somos formados e produzidos como sujeitos generificados. Isto é, ele politizou a subjetividade, a identidade e o processo de identificação (como homens/mulheres, mães/pais, filhos/filhas). Aquilo que começou como um movimento dirigido à contestação da posição social das mulheres expandiu-se para incluir a formação das identidades sexuais e de gênero. Em outras palavras, o feminismo questionou a noção de que os homens e as mulheres eram parte da mesma identidade, a “Humanidade”, substituindo-a pela questão da diferença sexual. Por diversos motivos, sugiro um filme para o dia de hoje - particularmente um dos meus favoritos. Trata-se de "The Hours", no elenco Nicole Kidman, Julianne Moore e Meryl Streep, a trilha sonora fica por conta de Philip Glass. O longa é dirigido por Stephen Daldry.
¹BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo.
²HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.Trad. Tomaz Tadeu da Silva. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.