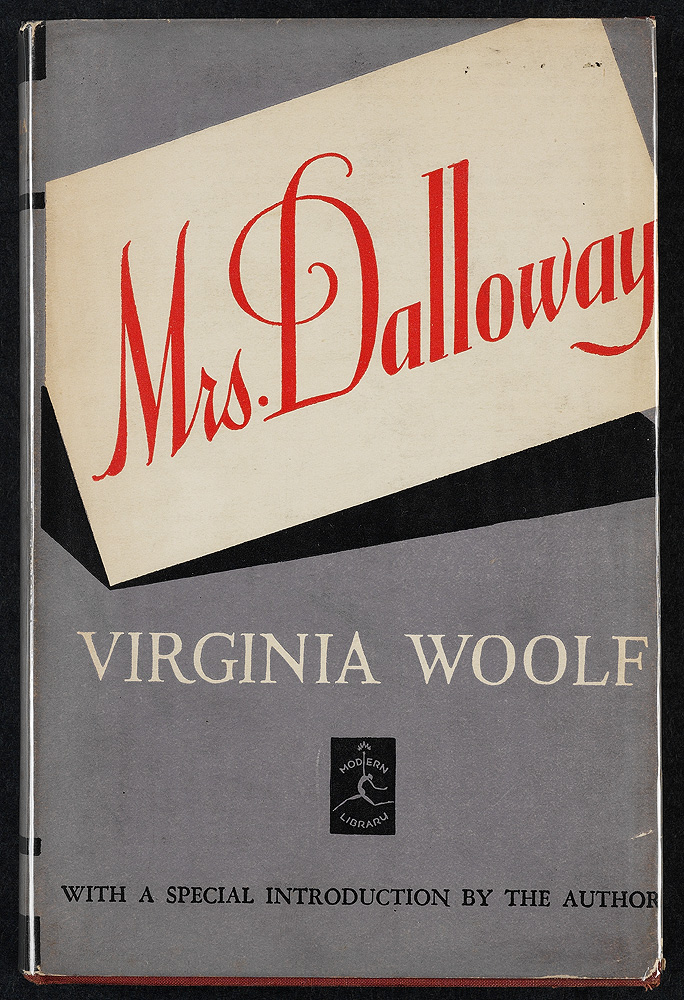Autor de três livros exaustivamente elogiados pela crítica (Mares Inacabados, Flor&Cultura 2008; Campo de Ampliação, Lumme Editor 2009; A densidade do céu sobre a demolição, Confraria do Vento 2009), Casé Lontra Marques tem se mostrado um dos poetas mais profícuos e sólidos de sua geração. Nos livros de Casé Lontra Marques, como em toda grande obra literária, a profusão de linhas mestras evita um delineamento muito pontual, uma definição que encerre o que seria um âmago ou um cerne temático. O estilhaço existencial que se dilui na língua impede a fixação de uma única haste que sustente o vigor da poesia. Há, todavia, pelo menos dois horizontes de análise, coexistentes e justapostos, que norteiam a possibilidade de apreensão de um movimento para uma poética: um com vistas ao que chamaremos busca pela palavra e, outro, fundado no que nomeamos sujeito que se estabelece. Antes de ir de fato ao exercício de análise, duas possíveis problemáticas merecem menção e incitam, de antemão, mínimo esclarecimento. A primeira diz respeito à própria proposta de apreensão de uma poética, ou seja, da forma, do como se faz, de um poeta estreante, até então, com três livros publicados. Quanto à primeira questão, esperamos que as obras justifiquem-na. Todavia, a segunda nos parece mais relevante. Sabe-se que, de alguma forma, o caráter estrutural representado basicamente pelos dois eixos de análise propostos (busca pela palavra e sujeito que se estabelece) está presente em toda poesia. Entretanto, esses horizontes de apreensão foram aqui instituídos (ou evocados) porque, mais do que uma constituição estrutural da expressão artística, as diretrizes que serão postas a seguir apontam para um incessante movimento de constituição da poesia. Além de um processo generalizante do exercício artístico, a justaposição dos movimentos é, em Casé Lontra Marques, um horizonte produtivo, específico e privilegiado da escrita.
No eixo busca pela palavra verifica-se um incessante deslocamento sinestésico e imagético que se dá na tensão quase sempre antitética do verso, na antinomia que atrita a abstração e a concretude, ou, como ressalta o crítico Luis Alberto Brandão, a "materialidade sensória e a vocação intelectiva e abstratizante" ("espinha da palavra"; "soco no tórax do tempo"; "pulmão da claridade"; "sol inchado na palma do paladar"). Além disso, compreende-se, também, nesse horizonte de ação analítica, o deslocamento de procura como a reincidente experimentação da sintaxe, definida no ritmo, na retomada, na repetição, no fluxo e na ressignificação do elementar grupo de signos que é encenado (corpo, argamassa, cidade, detergente, dente, metal, osso, pedra, operário, pássaro). A poesia de Casé Lontra Marques, ao se reapropriar incessantemente de signos cotidianos (dentes, osso, omoplata, detergente, vidraça, tórax, tornozelos, saliva, siderúrgico), os mantém em constante descolamento de sentido. Ela é, categoricamente, local de avivamento do sentido fossilizado da língua (Barthes).
Um segundo prisma temático que instrumentalizará a análise tende a problematização do sujeito que se estabelece, o que podemos definir, também, como a análise do local da enunciação e do discurso, a voz (ou as vozes) do texto poético. Tanto em Mares Inacabados como em Campo de Ampliação e mais ainda em A densidade do céu sobre a demolição, a subjetividade, longe de toda assepsia impessoal, encena e é encenada, como garante Maria Esther Maciel, "ora através de um 'nós' cauteloso, ora através de um jogo de aparecimento/desaparecimento", a consciência de uma "outridade" que se revela a) no edifício temático (violência, cidade, corpo, desconforto, apatia), b) na ressignificação e no diálogo com a tradição literária (há, como veremos, densos diálogos e discussões, principalmente, com a poesia de Fiama Hasse Brandão, Herberto Helder e João Cabral de Melo Neto); e c) numa arqueologia do sujeito – o "eu", na poesia de Casé Lontra Marques, suscita demasiado interesse, pois se revela e se oculta com exatidão, ao mesmo tempo que se configura ciente da crise de uma subjetividade privatizada (termo usado por Luiz C. Figueiredo), é pós-cabralino, porque não nega um sujeito, ao contrário, assume, pontualmente, uma subjetividade demarcada, como podemos observar nos seguintes versos: "Aluguei um quarto, falta/ agora a solidão. Serei// todo paredes// para o incêndio// prestes// a respirar". Ou ainda, "Agora// que encontrei para onde/ voltar, pretendo/ apenas ter passos de prosseguir". E em diversos outros momentos.
A poesia de Casé nos oferece elementos que apontam para uma íntima relação com o sujeito que se estabelece na escrita cabralina, e essa pode ser uma interessante chave de leitura. O que significa, no verso, "o sol do sarcasmo", "o sol (...) simulado na dispensa da distração", "o sol (...) estritamente calcário". "o sol inchado na palma do paladar", "o sol do sexo", "o sol do suor"? Qual sua relação com "o sol do deserto", o sol que seca a flauta de Anfion, o sol que "não intumesce a vida / como a um pão", o sol lúcido de João Cabral de Melo Neto?
Procurar na perseguição da metáfora uma chave comum é, nessa poesia, declinar em consumo. "O poema ensina a cair / sobre os vários solos", nos diz Luiza Neto Jorge, "desde perder o chão repentino sob os pés / como se perde os sentidos numa / queda de amor, ao encontro / do cabo onde a terra abate e / a fecunda ausência excede". Não é outra coisa senão a própria escrita poética que indica o método, ou seja, o caminho de uma apreensão nunca exata, sempre um por vir: (ou como sugere o próprio poeta) "Será preciso aceitar o movimento para talvez espetar a ponta da língua na fibra efêmera que dilata a potência do paladar". Tatear o longo poema ora se aproximando do sarcasmo ora da atenção é como aceitamos este movimento.
Alcides Villaça, no ensaio Expansão e limite da poesia de João Cabral, destaca como leitmotiv, em Pedra do sono, o "eu morto" e suas conseqüências. O crítico sublinha que, na poesia do pernambucano, a "primeira pessoa gramatical está obsessivamente assumida, mas no modo paradoxal de quem o faz para declarar a sua ausência (...): os olhos se mecanizam em telescópios, os pensamentos em telegramas, a experiência viva em folha de jornal, a poesia em revólver, o tempo na roda de um carrossel". O "eu", em Cabral, abandonado (ainda que sem a perda do sujeito dito racional), se insinua no silêncio das máquinas e aparelhos da modernidade, pois refuta a privatização da subjetividade tão cara aos românticos. Resta, como garante Alcides Villaça, à inatividade do sujeito cabralino, "a recepção transfigurada que converte tudo em 'flores secas', em 'sol gelado', em 'lua morta', em 'frutas decapitadas', em 'águas paradas". A poética de Casé Lontra Marques se constitui de modo paradoxal, pois, ao contrário dos modernos, não refuta nada, o passado não é mais apagado, é recuperado, incorporado e compartilhado com outras versões de si. Assim, enquanto na poesia cabralina, as "máquina e aparelhos do mundo moderno parecem sublinhar mais fortemente a inatividade exasperante desse sujeito", na poesia de Casé Lontra Marques o signo se corporifica e toma ares de uma subjetividade que, como em Cabral, é minada pela asfixia da modernização, mas assume, aqui, uma subjetividade, ainda que enviesada.
Enquanto o sujeito, em Cabral, silencia na assepsia da coisa, no texto de Casé, a cidade se corporifica e goza de um rosto, de vários rostos: "Através da vidraça trincada, dá pra ver a cara calma / da calçada. Prédios em vez de asas. / Quando escurecer, o corpo edificará sua cota / de argamassa. Algo branco / seduz a cidade som solidez de fumaça. / Depois de respirar, aceito / o sol na medida exata do furo de uma bala." Maria Esther Maciel nos diz que "o 'eu' em Campo de Ampliação [e, sem dúvida, é uma característica dos outros livros do poeta], longe de se expor em alto relevo, é oblíquo e discreto, encenando, ora através de um nós cauteloso, ora através de um jogo de aparecimento/desaparecimento da própria voz que enuncia uma subjetividade também consciente de sua própria 'outridade'".
Discursando sobre o retorno do sujeito à arte, a psicanalista Tania Rivera (UNB) parece propor espaços mais verticais de discussão. Segundo a psicanalista, o sujeito
(...) se desmaterializou e problematizou suas fronteiras em relação ao outro, no mesmo passo em que se temporalizou e se deslocou em uma nova concepção, fragmentada, do espaço. Em vez de manter o jogo da alteridade que o constitui como alienado de si mesmo, em vez de brincar de ser outro, em uma mobilidade que pode por vezes fixar, por algum tempo, alguma posição, diante do desmantelamento crítico da representação ele parece dissolver-se a ponto de se retirar. Ele diria, em vez de 'o Eu é um outro': Eu não é. Mas é quando ele não tem mais lugar na representação, justamente, que ele pode se apresentar: retornar como convocação direta ao espectador. Com-vocação: convite a tomar a palavra, a ter voz. Convite que é como uma mensagem apagada jogada dentro do mar, carregando o belo risco de não chegar a ninguém. (Conferência publicada em Criação e Crítica – Seminários Internacionais Museu Vale 2009)
Na poesia cabralina, o sujeito se vê anulado pela presença maciça do objeto, ele se retira para que o objeto se apresente como entidade autônoma. O que acontece na poesia de Casé Lontra Marques parece ser o inverso, o objeto convoca o sujeito. Há uma subjetivação do objeto, que goza de um rosto: "A próxima esquina será uma outra cidade com novos olhos". E não mais "os olhos se mecanizam em telescópios, os pensamentos em telegramas, a experiência viva em folha de jornal, a poesia em revólver, o tempo na roda de um carrossel", como no poeta pernambucano - objeto, aqui, no sentido tradicional da filosofia e da psicologia do conhecimento, ou seja, "enquanto correlativo do sujeito que percebe e conhece, é aquilo que se oferece como característica fixa e permanente" (Laplanche) e não necessariamente numa acepção correlativa à pulsão.
A relação desenvolvida é, pois, um laço com a tradição: a partir do momento em que o Eu não é (em Cabral), ele se enuncia, em Casé, não como representação do outro, mas como convocação.
(Afirmar que o "eu" da não-representação do outro retorna como convocação é imbricar uma sucessão de resguardos e o primeiro deles é que essa não-representação não está pautada no conceito de representação desenvolvido por Roland Barthes, por exemplo, mas, numa representação que advém do conceito lacaniano de real – é uma aporia que não deve ser lapidada agora.)
Ainda em seu discurso sobre a volta do sujeito à arte, a psicanalista propõe (via Lacan e Hal Foster) o "retorno do real" como uma noção essencial para a arte contemporânea. Assim, nos diz Tania Rivera, passaríamos "da realidade como efeito de representação para o real como uma coisa de trauma". A determinação do termo "traumático", segundo Freud, não tem outro sentido senão o econômico. Em uma das conferências introdutórias da psicanálise de 1916, Freud no diz que se trata de um estímulo tão excessivamente poderoso que não pode ser manejado ou elaborado de maneira normal; poderíamos pensar em um copo que, com determinada capacidade quantitativa (econômica), é excedido, transborda. E se vale a pena nos apropriarmos desse conceito clínico, devemos nos perguntar: em que a poesia transborda ou faz transbordar?
E a resposta deve ser encontrada na função de apoio que desempenha a busca pela palavra sob o sujeito que se estabelece e "no apelo direto ao espectador [leitor] que busca comparecer o sujeito no real, por fora do enquadre do drama, da representação", do simbólico. Como destaca Cinda Gonda, há em Mares Inacabados (e pode ser estendido aos dois outros livros) uma forte crítica social, um olhar que presencia a falta, a catatonia ("recupero a água enterrada na asfixia/ produzida// pela falta de fala"); a miséria ("posso ouvir a manhã espetar// a fome empedrada na espinha/ dos pivetes"); ausência e a apatia ("o corpo prefere a mudez do medo ao movimento da reflexão"). Entretanto, mesmo quando esse sujeito urgente é tema da poesia, não é a representação que está em jogo, mas, na convocação (com-vocação, chamar à palavra), a proposição de uma crítica política da subjetividade, em um sentido que não se contrapõe ao encenar (por em cena), mas ao fingir ser – "o poema", mais uma vez recorrendo à Luiza Neto Jorge, é "um duelo agudíssimo (...) apontado ao coração do homem". E agora nos parece muito incisivo retomar a primeira epígrafe do mais novo livro de Casé para acentuar nossa dispersão: "Criar não é imaginação, é correr o grande risco de se ter a realidade" (Clarice Lispector).
No que consiste essa função de apoio supracitada (evidentemente aparentada de um vocabulário freudiano)? Os livros de Casé são tortuosos, absolutamente múltiplos e cada vez mais múltiplos e isso se deve menos a uma questão temática que convulsiva da linguagem (enquanto estrutura, já que tudo mais é também o que constitui a linguagem). É na linguagem e somente na linguagem que se pode colocar em suspenso, desarmar e arrebatar – e aqui talvez fizéssemos concordar Heidegger, Wittegestein, Lacan e Guimarães Rosa. Em uma de suas famosas conferências caraquenhas sobre o pensamento de Lacan, Jacques-Alain Miller afirma que a linguagem transforma o indivíduo humano até em seu corpo, no mais profundo de si mesmo, transforma suas necessidades, transforma seus afetos – esta seria sem dúvida a grande aposta da psicanálise e o grande elo, desde sempre, sublinhado por Freud, com a literatura.
A escrita poética de Casé Lontra Marques intensifica uma desorientação (ou uma "reorientação dos atos de distração"), é o passo que rompe o silêncio do sujeito (ora expressão minimalista da contenção da fala ora uma repetição imoderada e tautológica) e conduz ao desconforto da proposição de novas estruturas de fala (uma possibilidade de alargamento da intensidade, a imposição dos ilimitados mares inacabados ou de um campo de ampliação). A propriedade traumática da poesia seria, assim, a provocação na (e pela) linguagem (a incessante obsessão pela sintaxe, pelo ritmo, pela imagem) que quer exceder a elaboração do sujeito, ou seja, toda estrutura de assimilação e agregação a uma cadeia de significados.
[continua]